
Desde que me recordo sou atormentada por pensamentos. Se eu conseguisse realmente transportar o que existe dentro da minha cabeça para o mundo real, acabaria atropelada pelo meu próprio fluxo de consciência. Por causa dessa enxurrada elaborada de linguagem, enfrento problemas severos e incapacitantes com ansiedade, caio em armadilhas do meu próprio cérebro e tenho muita dificuldade em calar a boca interna. Acho que é por isso que escrevo. Porque penso em coisas que me espantam e juro que tento fazer alguma coisa diferente com isso. Por mais que eu me esforce para desviar o assunto, contudo, os interesses logo caem em um pequeno pântano de ideias. Algumas pessoas cultivam seus pensamentos e acabam virando pesquisadoras, professoras, autores de construções sofisticadas do conhecimento. Como sou preguiçosa para estudar, recorro à ficção. Aqui, tudo acaba virando uma história.
Uma vez tive uma viagem de ácido muito intensa na qual ganhei um sermão da minha própria alma. Enquanto vivia várias iluminações simultâneas sobre a natureza da existência, como é próprio dos psicotrópicos, eu pensava em como transformar tudo aquilo em literatura depois. Até que o espírito lisérgico ficou puto com a minha mania em querer sintetizar a experiência. Isso você não vai poder usar, não sei se me avisaram, ou se eu me avisei. Aquela não era a vida de um personagem, aquela era a minha vida.
Viver e escrever uma história são processos muito parecidos porque precisam da execução para aprender como são feitos. Acho que me acostumei a fazer os dois ao mesmo tempo, e agora não sei mais como parar.
A raiz da imaginação está diretamente conectada ao mundo dos estímulos. Todo mundo tem imaginação, que é em si uma qualidade de fábrica. Está embutida na provocação existencial desse grande mistério chamado consciência. A partir do momento em que percebemos a realidade, fazemos questão de encontrar uma forma de interpretá-la e explicá-la, e se alguns partem para o método científico, preocupando-se em observar e medir, outros, os mais “artistas”, fazem isso sentindo e transmitindo.
Gosto muito de um poema da Louise Glück que diz: "Nós olhamos para o mundo uma vez, na infância. O resto é memória”. Quando penso nessa época – a época em que eu era apenas uma criança – lembro do estado de encantamento que era poder observar e sentir as coisas pela primeira vez. Não que eu já tenha visto muitas coisas, ainda sou muito jovem para isso, e talvez seja para sempre muito pobre para isso. O sentimento de inauguração jamais poderá ser revivido, mas gosto muito de observar a minha filha e suas descobertas, é como acompanhar de camarote o seu ingresso nas sensações. É quando agradeço por estar vivendo o absurdo que é fazer alguém existir.
Outro dia, por exemplo, choveu em Brasília pela primeira vez em cento e tantos dias. Uma coisa comum no deserto. A minha filha, ela mesma uma criaturinha da seca, não teve a oportunidade de conhecer esse fenômeno, ainda era muito bebê quando as últimas chuvas se foram. Então, quando as águas voltaram a cair – graças a deus, ainda voltam – correu com suas perninhas gorduchas para a varanda e ficou apontando para cima, e por um momento foi como se eu mesma me esquecesse de como é o céu quando se derrete. Olhar como ela foi o meu deslumbre do dia.
As crianças são seres artísticos por natureza. Porque ainda não passaram pelo moedor do constrangimento, conseguem se expressar com liberdade, e com frequência fazem isso desenhando, pulando, inventando e de tantas outras formas que, mais tarde, serão picotadas pelo mundo concreto. A minha filha dança. Muito antes de aprender a andar, já dançava. Ao ouvir qualquer música, balança aquelas mesmas perninhas gorduchas, convoca o movimento para sentir a música. Não fui eu que ensinei, e certamente também não foi o pai dela. Ela sabe o que fazer.
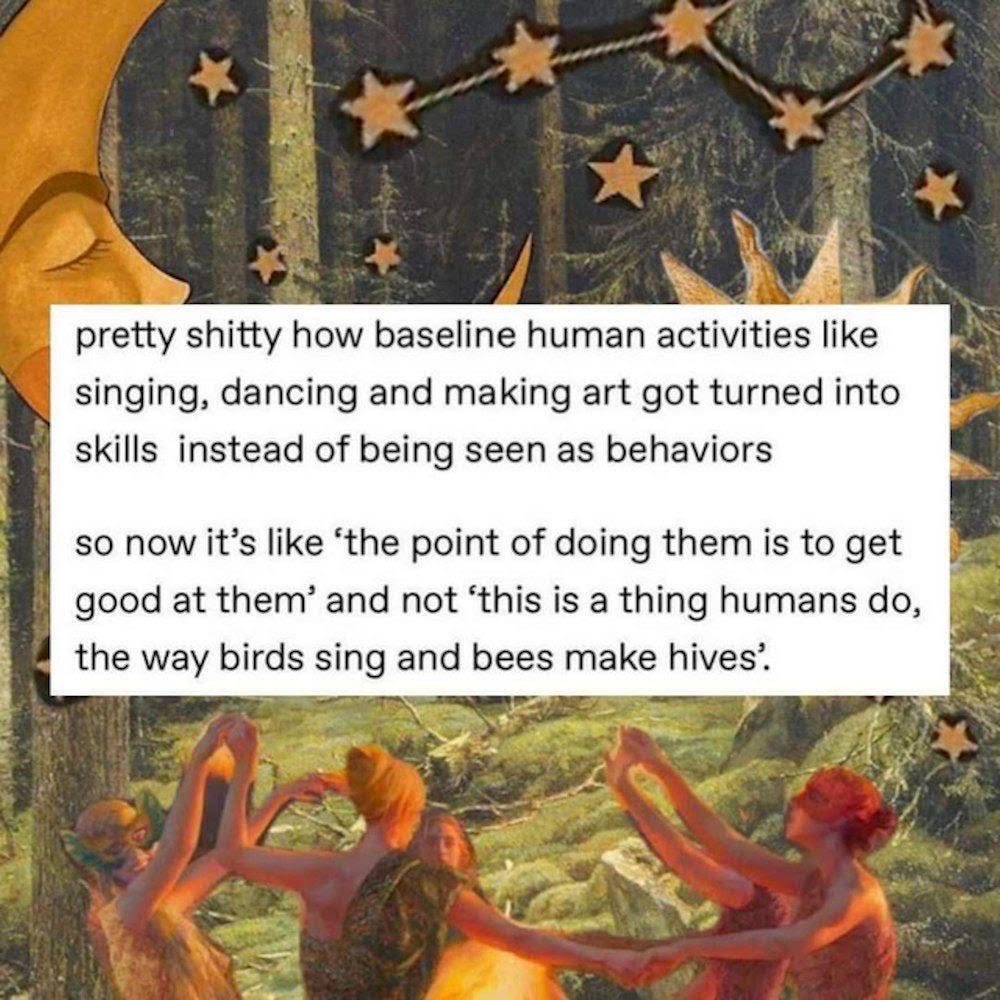
Uma vez comecei a rascunhar uma história sobre um mundo sem artistas. Uma espécie de ficção especulativa, na qual toda a arte desaparecia, e o que restava não era bonito. Talvez um dia volte a essa história. Mas são tantas outras que eu queria escrever e não tenho condições. A maior tristeza é que eu preciso viver uma outra realidade para sustentar o resto que importa. Se eu fosse um homem branco norueguês, com creche gratuita e suporte do governo para escrever, não estava passando por essas coisas.
Se eu fosse um homem norueguês, no entanto, jamais conheceria o prazer das palavras cumbuca, coisa e caranguejo. Jamais lembraria que minha avó e minha mãe chamam cambalhota de maria cambota. E seria incapaz de escrever sobre a primeira vez em que minha filha conheceu a chuva.
Frequentar quem a gente é: isso também é raiz para a imaginação.
A questão é que eu queria, só um pouquinho, parar de ter ideias para novos romances e contos quando claramente preciso descansar disso tudo um pouco. Parar de ter pensamentos é impossível – já entendi que meditar não funciona comigo, pelo menos não do jeito convencional, e é muito difícil fazer exercícios físicos quando tem uma menininha de 600 gramas começando a espremer seus pulmões e fazendo a sua bexiga de travesseiro. Minhas pernas doem. Sinto calores e estresses diversos. Não posso tomar vinho. Não preciso me coçar para inventar mais gente. Já tenho uma pessoa de carne e osso dentro de mim.
E, no entanto, a vontade persiste. Aquela que me abandona um dia, mas sempre retorna no outro. Se não estou escrevendo e leio algo fantástico, a vontade volta com a força de um caminhão sem rumo. Os estímulos certos, de novo, na minha frente. A arte é uma espécie de mecanismo fagócito. Sai comendo o que vê pela frente e então cospe uma coisa nova – que talvez nem sobreviva, nem sirva para ninguém, porque o seu propósito nunca foi servir.
Acabei de assinar o contrato de edição do meu novo romance. Deve sair ano que vem ou no primeiro semestre de 2026. A última coisa que eu preciso é escrever outro livro agora. Mas acho que ando comendo arte demais.
O Junot Díaz, autor de A fantástica vida breve de Oscar Wao (ótimo livro), escreveu aqui no Substack sobre como ele se sente envergonhado por não conseguir produzir muito. A Donna Tartt lança um livro a cada dez anos — e já passamos desse prazo com o último, mas a bonita ainda não deu sinal de vida. O Stephen King, por outro lado, é um maníaco, assim como o César Aira, que escreve uns trezentos livros por ano. Acho que sou um meio termo. Nem lenta, nem maníaca.
Não tenho que achar nada, no entanto, porque a produção dos outros não me diz respeito. O erro de qualquer autor, em uma situação assim, é querer se comparar. Aliás, parece que o grande mal do nosso século é a comparação. Não sei quando foi que abandonamos a régua interna para nos medir pelo instrumento dos outros. Eu também me comparo. Sofro, às vezes me entristeço com o sucesso alheio, principalmente se me parece injustificado, cobro de mim um desempenho que custo a alcançar com meus joelhos goianos raquíticos. Não gosto de entrar nesse jogo, porque sempre acabo derrotada. Prefiro, então, o conforto desses pensamentos frenéticos. Eles nunca se questionam, porque são só meus.
(Lembrei aqui que, ao abrir o documento de Word, eu queria escrever sobre o tempo de cada escritor e o ritmo da escrita. Se isso aqui fosse uma redação, eu seria reprovada por fuga ao tema. Ainda bem que não é.)
Enquanto não passam os efeitos dessa criatividade quase entorpecente, vou me permitir pensar e sentir. Se a urgência de escrever aparecer, não vou negar. Vou aceitar que entrem essas histórias novas, e as passadas, se insistirem em bater de novo. São compromissos que faço comigo mesma, e sei que a raiz da minha imaginação é longa e firme porque venho alimentando há muito tempo.
Lá no fundinho da mente, no entanto, ainda escuto que algumas coisas estão aparecendo aqui dentro com outro propósito, muito mais ligado ao entendimento da vida que me entregaram para exercer, inclusive aquela que estou carregando na barriga.
E isso realmente não vou poder usar.





Lindo texto. Vou imprimir esse trecho: “Frequentar quem a gente é: isso também é raiz para a imaginação.” ♥️
Perdi as contas de quantas vezes quis ter um botão para desligar o cérebro.
A comparação com os outros é algo que me mortifica de tempos em tempos, ainda mais na atualidade, com as redes sociais. Parece que todos estão produzindo o tempo todo e que estou sempre para trás. Dai, vou lá na minha cabeça e aperto o botão do F...me dou uma bronca e volto ao prumo, reorganizando meus pensamentos sobre mim mesma, minha realidade, minha vida e sigo adiante.